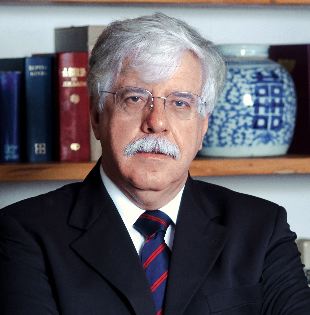I Colóquio Rousseau. “Rousseau, verdades e mentiras”
Faculdade de Ciências e Letras - UNESP – Araraquara
12 a 14 de novembro de 2003
Mentiras
transparentes. Rousseau e a Contra revolução romântica
Conferência de Abertura
Prof.
Dr. Roberto Romano (UNICAMP)
(Agradecemos ao Prof. Romano a gentileza de
ter disponibilizado este texto, ainda em versão preliminar, para leitura prévia
pelos participantes do Colóquio, e lembramos que está vedada sua reprodução,
distribuição ou utilização para qualquer outro fim.)
No simpósio que hoje se inicia os senhores analisarão a mentira no
pensamento do filósofo. Muitas facetas de suas fórmulas podem ser discutidas em
detalhe, outras apenas de modo rápido. Desde os primeiros passos da filosofia, sabemos o quanto o engano deliberado,
permitido aos dirigentes, integra em plano menor um saber que se volta para a verdade.
Gostaria de usar, como inspiração de minha fala, algumas linhas de um
comentador de Rousseau, que expõe o problema a ser levantado com maior
freqüência nas atividades deste simpósio. Ao referir-se ao nexo entre filosofia
e teatro no âmbito da ética, Guy Besse adianta: quer deseje ou não, saiba ou não, a filosofia para Rousseau é “comédia
na comédia, ela enxerta a ilusão na ilusão.
Se no Sobrinho de Rameau o filósofo imagina não entrar na
pantomima, o autor do Primeiro Discurso e do prefácio do Narciso,
não o poupa. O filósofo, também ele, se inclina. É preciso, portanto (…)
observar que o jogo da aparência em Rousseau possui uma complicação, um
refinamento extremos. Estaríamos errados se acreditássemos que para ele a
aparência é apenas e nada mais do que mentira, máscara, violência mascarada. A
aparência é máscara; é confissão. Ela esconde o que esconde e o sugere; digamos
que ela o designa”.([1])
Deixemos de lado, na passagem de Guy Besse, a leitura superficial do Sobrinho
de Rameau, visto que ela paga tributo à uma divisão prestigiosa mas pouco
fundamentada entre o filósofo e o vagabundo genial e observemos os enunciados.
As fórmulas barrocas usadas por Besse —a comédia na comédia, a ilusão na
ilusão— servem perfeitamente para descrever o pensamento de Rousseau. Elas
dizem mais do que as figurações românticas posteriores ao tempo do filósofo. E
isto não é apenas um problema cronológico. Nos últimos tempos, a pesquisa em
história do pensamento político e filosófico procura sair da ilusão retroativa
que jogou sobre pensadores das Luzes e do século 17 as teses do romantismo do
século 19 e da Contra-revolução. ([2])
Além das teses que empurraram Rousseau, Diderot e outros para a epistême
organicista do romantismo, o desvinculamento entre aqueles pensadores e o
barroco apaga o elemento que, no meu entender, é vital neles, a crítica do
poder político enquanto aparência. Claro, esta via tem nos Diálogos
platônicos e nas teorizações antigas e medievais o seu lugar elevado. O nexo
imediato do século 18 com a Renascença e com a idade clássica ajuda,
entretanto, a compreender as críticas simultâneas às artes e ao mando, quando
este é tirânico. O romantismo seqüestrou a política e a críticas às artes,
arrancando-as do pensamento racional do século 18. E isto gerou a legenda do
Rousseau sentimental e isolado do mundo, protótipo do poeta maldito, uma das
banalidades do figurativismo romântico.
Logo após enunciar que a crítica de Rousseau às aparências e às mentiras
das máscaras é um complexo noético, Besse exemplifica o que diz numa passagem
do Discurso sobre a Economia Política: “a lei da qual se abusa, serve ao
poderoso ao mesmo tempo como arma ofensiva e de escudo contra o fraco, o
pretexto do bem público é sempre o mais perigoso flagelo do povo”. ([3])
Rousseau foi retratado como sonhador individualista em cujos textos
autobiográficos os gênios românticos encontraram o caminho para a fuga do
mundo. Ao mesmo tempo, ele recebeu a pecha de totalitário que exigiu o
sacrifício dos átomos sociais ao grande Todo, o coletivo estatal. Os dois
ataques são devidos à mesma operação cirúrgica, realizada sine ira et studio
por teóricos da contra-revolução romântica. Levantar esta suspeita é o sentido
de minha alocução nesta noite.
Comecemos com uma frase verdadeira segundo Rousseau. “é bom que um
apenas pereça por todos”. O enunciado vem do Evangelho de João (11, 47- 50). Os
mais importantes dirigentes do quase morto Estado judeu, diante do Cristo, se
aconselhavam sobre o que deveria ser feito para evitar o entusiasmo do povo
pelo Nazareno, visto cada vez mais como rei e prevenir rebeliões seguidas por
represálias dos romanos. Cito o trecho bíblico: “Então os principais sacerdotes
e os fariseus convocaram o Sinédrio; e disseram: que estamos fazendo, uma vez
que este homem opera muitos sinais (semeia, na versão grega)? Se o deixarmos
assim todos crerão nele; depois virão os romanos e tomarão não só o nosso
lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada
sabeis nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que
não venha a perecer toda a nação”. ([4])
A lógica dos sacerdotes era a da auto-conservação do povo, e ela fazia
sentido pleno, se considerada a ameaça do jugo imperial. A frase da quase razão
de Estado encontra sua fórmula consagrada no dito latino: “salus populi suprema
lex esto” (que a conservação do povo seja a lei soberana). Assim, as injustiças
mais gritantes, as piores mentiras, podem ser absorvidas no contexto da suposta
preservação popular. Este axioma foi assumido, entre muitos, por Gabriel Naudé,
em obra clássica e por isto mesmo ainda atual, as Considerações políticas
sobre os golpes de Estado.([5]) No mundo de hoje, os líderes dos Estados
abusam do sacrifício em nome da salvação nacional. Assim, apenas para
exemplificar, após os atentados do 11 de setembro, os EUA retomaram a prática
de invadir países, jogando seus cidadãos em campos da morte com a tradicional
desculpa dos fariseus que decidiram a sorte do Cristo. Mudou apenas o número.
Não se trata mais de sacrificar um apenas. Muitos e muitos devem ser mortos em
nome do Estado.
Stalin contou a André Malraux uma sua conversa com Lenine, cujo tema era
saber se bastariam 6 milhões de mortes para garantir o novo regime. Ele pendia
para 60 milhões. Estava certo. ([6]) O século 20 assistiu bestializado 180 milhões
de puros assassinatos em guerras e repressões políticas, ideológicas,
religiosas. ([7]) A razão estatal mostrou a sua irracionalidade
em duas guerras mundiais; no uso da Bomba atômica; nos campos de concentração
onde milhões de judeus foram sacrificados aos numes do racismo e da
intolerância. Massacres ocorreram nas terras armênias, nas ruas de Guernica,
nos vales do Camboja, nos estádios de Pinochet, na praça da Paz Celestial, nos
desertos africanos, nas estradas do Mississipi. O mundo cobriu-se com os
lamentos de mães que entregaram, sem escolha, seus filhos aos deuses do pavor.
E tudo ocorreu depois de inúmeras tentativas, feitas por mentes lúcidas e
corajosas, para atenuar o ethos guerreiro e intolerante que domina a
Humanidade. A Liga das Nações e a ONU prenunciaram o possível advento das luzes
e da paz. O mundo, entretanto, ainda deseja as trevas.
Após as Revoluções francesa e norte-americana, a idéia da razão como
guia do saber científico e moral perdeu seu encanto. O romantismo conservador
tentou, por todos os meios, desacreditar o ideal da paz e da racionalidade.
Ninguém melhor do que Novalis expressou a mentira romântica sobre a guerra.
Como todos os piores venenos, o ideal bélico foi por ele apresentado sob a
forma da beleza: “Na guerra agitam-se as águas originais. É preciso que novas
partes do mundo nasçam, que novas raças se cristalizem, surgidas desta
desagregação. A guerra verdadeira é a religiosa; ela vai diretamente ao Abismo
e nela a loucura do homem mostra-se em toda a sua plenitude. Quantas guerras,
em particular as que nascem de ódios nacionais, pertencem a esta classe e são
verdadeiro poemas!”. ([8]) Como diz um comentador do fenômeno guerreiro:
“O romantismo ocupa o lugar do romanesco de uma guerra idealizada”. ([9])
A cultura romântica conservadora ajudou poderosamente a restabelecer o
clima sacral, os vínculos entre crenças e Estado, aumentando a carga da
intolerância no mesmo passo em que caluniou os pensadores do século 18. No
mesmo movimento em que sapou as Luzes, o romantismo selecionou um lado em
Rousseau —os tateios na interioridade— e baniu o que, seguindo a razão,
investigou criticamente o mundo político e moral.
Voltemos à frase do início. Rousseau, como indica Michel Senellart, não
rejeita nem a fórmula “é bom que um pereça por todos” nem o dito “salus populi
suprema lex esto”. Ele distingue dois sentidos nas frases. “Na boca de um
cidadão que oferece voluntariamente sua vida pela salvação de seu país, ela é
admirável. Significando, no entanto, que é permitido a um governo ‘sacrificar
um inocente pela salvação dos muitos’, ela é detestável. Patriótica no primeiro
caso, despótica no segundo. O amor da pátria faz uma virtude do sacrifício
individual, que o Estado não poderia exigir em nome do bem público”. ([10])
A polissemia é velha companheira dos filósofos, desde o início do gênero
literário inaugurado por Platão. No campo da verdade, sobretudo quando ela se
une à política, à religião, ao plano jurídico, a prudência filosófica sempre
recomendou cautela. Não apenas os pensadores céticos ajudaram muito na
prevenção dos perigos produzidos pelos desejos de verdade. Mesmo os que se dedicaram
à defesa dos poderes civis ou eclesiásticos, se não foram apenas justificadores
vulgares do mando, enfrentaram a polissemia
aninhada nas mais corriqueiras das frases. No caso do sacrifício de
Cristo, decidido pelos sacerdotes, sublinhei no texto evangélico que os donos
do Estado judeu afirmaram que Jesus tinha enorme poder com os sinais, os semeia.
Como ler os sinais? Na tradição profética, descrita com lucidez quase
insuportável por Spinoza no Tratado Teológico-Político, existiam regras
bem estabelecidas, mas todas supunham o conúbio
entre os exegetas e a imaginação religiosa. A “verdade” de um enunciado
profético encontrava-se no conjunto de sinais da tradição nacional. Para romper
o círculo estabelecido na tradição e no imaginário religioso, pensa Spinoza, é
preciso dele sair e começar uma outra interpretação, agora com base no
intelecto. E o intelecto não opera com sinais, mas com pensamentos. A poesia da
Bíblia deve ser esquecida, para que se leia a verdade dos fatos narrados por
ela. ([11])
Outro pilar do pensamento político ocidental, Jean de Salisbury, no Policraticus
—obra que inaugura de modo decisivo a moderna doutrina do tiranicídio— também
ensina a prudência na interpretação dos sinais. Existem, diz ele, signos “que
nada mostram aos sentidos corporais, mas freqüentemente inculcam na alma o
verdadeiro e o falso, mediante a essência de qualquer coisa, ou sem a
dificuldade do meio”. Signos podem ser verdadeiros ou falsos. Isto faz com que
Salisbury passe dos sinais para as dificuldades semânticas: “se uma palavra
possui três ou quatro significados, chama-se polivalente … uma coisa possui
tantos significados quantas semelhanças tiver com outras; mas de tal modo que o
maior nunca seja o signo do menor, uma vez que os signos sempre são menores”. Quando
nem a consciência nem os sentidos fornecem certezas incontestáveis, precisamos
aplicar a dúvida. Salisbury, seguidor do platonismo cético da Nova Academia,
propõe naqueles casos a suspensão do juízo. ([12])
Enunciados polissêmicos não podem ser reduzidos à univocidade. Esta
última é uma torsão cujas conseqüências trazem muitas tragédias, sobretudo no
campo da política e da ética. As desastrosas cartilhas ou manuais, dicionários
de filosofia publicados na Alemanha e na Itália fascistas ou na Academia de Moscou
durante o estalinismo, são provas deste ponto. Dei o exemplo da frase sobre a
salvação do povo e sobre a morte de um só, para recordar que no interior dos
textos de Rousseau as camadas de significação conduzem o pensamento para
realidades distintas ou mesmo contraditórias. Muitos dos seus paradoxos entram
neste campo.
A seleção, no interior corpus dos escritos roussoístas, de escritos
e sentidos, deu-nos algumas versões
mentirosas sobre o pensador. E isto não foi obra do acaso. Com o golpe do Termidor,
a Revolução Francesa deixou o campo dos valores e passou ao plano
mentirosamente mais sólido do interesse econômico e social como base da
política. As representações intelectuais do século 18, incluindo as de
Rousseau, as de Diderot e mesmo as de um aristocrata como Voltaire, insistiam
na virtude cidadã como base do governo não tirânico. Esta doutrina foi
reforçada no período jacobino, sobretudo sob Robespierre. Com o golpe do
Termidor, ela foi afastada na teoria e na prática políticas.
Comenta Alain Badiou num texto luminoso: “o ponto central é que ao
princípio da Virtude se substituiu o princípio do interesse. O termidoriano
exemplar (…) é certamente Boissy d’Anglas. Seu grande texto canônico é o
discurso do 5 Messidor ano 3. Citemos: ‘Devemos ser governados pelos melhores
(…) ora, com poucas exceções, só encontrareis semelhantes homens entre os que,
tendo uma propriedade, são apegados ao país que a contém, às leis que a
protegem, à tranqüilidade que a conserva’.”. A virtude, comenta Badiou, “é uma
prescrição subjetiva incondicionada, que não remete para qualquer determinação
objetiva. É por este motivo que Boissy d’Anglas a recusa. Não se exigirá do
dirigente que ele seja um político virtuoso, mas que ele seja um representante
governamental dos ‘melhores’. Estes não constituem uma determinação subjetiva.
É uma categoria definível condicionada absolutamente pela propriedade. As três
razões evocadas por Boissy d’Anglas para entregar o Estado aos ‘melhores’ são
essenciais e tiveram grande futuro: —para um termidoriano, o país não é, como
para o patriota jacobino, o lugar possível das virtudes republicanas. Ele é o
que contém uma propriedade. O país é uma objetividade econômica. —Para um
termidoriano, a lei não é como para o jacobino, a máxima derivada do nexo entre
princípios e situação. Ela é o que protege, e singularmente o que protege a
propriedade. Assim, sua universalidade é totalmente secundária. Conta a função.
—Para um termidoriano, a insurreição não poderia ser, como o é para o jacobino
quando a universalidade dos princípios é pisoteada, o mais sagrado dos deveres.
Pois a reivindicação principal e legítima do proprietário é a tranqüilidade.
Encontramos, assim, o tripé fundamental de uma concepção objetiva do país, de
uma concepção conservadora da lei, e de uma concepção securitária das
situações. Uma primeira descrição do conceito de termidoriano nele vê a nuvem
do objetivismo, do status quo ‘natural’e da seguridade”. ([13])
Justo porque o
princípio objetivo impera a partir do Termidor e as noções de justiça, valor,
virtude, são esvaziadas ao máximo, dando-se preferência à propriedade; porque não é mais permitido mudar a política
sem a licença do mercado, o poder passa a desempenhar o papel de protetor da
propriedade —velha tese de Locke—([14]) contra os que não podem se encontrar no rol
dos “melhores”. Não é preciso consultar os autores liberais do período, ou
mesmo o que sobrou dos que defendiam o jacobinismo, para perceber que a
garantia da propriedade deu-se com a mais dura violência. Termidoriano foi o
império e termidoriana a restauração monárquica. Em ambos os períodos, o
elemento “objetivo” invadiu a política e a cultura, deixando para os indivíduos
apenas os devaneios românticos e a sensibilidade exacerbada.
Naquele período, o peso da força policial e da censura, unido à
vigilância da Igreja, afastou qualquer veleidade de vida pública, cidadã. Este
clima foi magnificamente colhido por Stendhal em Le rouge et le noir.
Erich Auerbach analisa o romance e o momento histórico em que ele se inscreve,
a partir do tédio experimentado por Julien Sorel nos salões e na vida social
mais ampla. O enfado exposto no texto, diz Auerbach, “não é um enfado comum;
não provém da casual estupidez pessoal dos seres humanos (…) há entre eles
também alguns altamente instruídos, espirituosos, até importantes (…) trata-se
com este enfado, muito mais de um fenômeno político e sócio-histórico da época
da restauração. No século 17 ou até no século 18, os salões correspondentes
eram tudo menos aborrecidos. Mas o ensaio empreendido pelo governo bourbônico,
com meios insuficientes, para reimplantar condições definitivamente superadas e
condenadas fazia tempo pelos acontecimentos, cria nos círculos oficiais e
dirigentes dos seus adeptos uma atmosfera de simples convenção, de falta de
liberdade e de afetação, contra a qual o espírito e a boa vontade das pessoas
implicadas eram impotentes. Nestes salões não se deve falar daquilo que
interessa a todo mundo, dos problemas políticos e religiosos e,
conseqüentemente, também não da maioria dos temas literários da época ou do
passado imediato; quando muito, podem ser ditas frases oficiais, que são tão
mentirosas, que um homem de gosto e de tato prefere evitá-las. Que diferença
com a ousadia espiritual dos famosos salões do século 18, que, evidentemente,
nem sonhavam com os perigos que desencadeavam contra a sua própria
existência!”.
Enquanto o mundo boceja e a polícia garante a propriedade, Julien,
lembra Auerbach, “de natureza apaixonada e fantasiosa, sempre se entusiasmou
desde a sua primeira juventude, pelas grandes idéias da Revolução e de
Rousseau, pelos grandes acontecimentos da época napoleônica”. Temos o núcleo da
tragédia, em Le rouge et le noir: a existência e as idéias de Sorel
chocam-se com o mundo que recusou a Revolução. Seus padrões morais o tornam
revoltado com a perda dos valores na Restauração. Nela, quem não se curva aos
“fatos”, se estilhaça ou morre. “Os
heróis dos romances pré-românticos delatam uma aversão por vezes quase mórbida
a entrar em contato com a vida contemporânea. Já para Rousseau a contradição
entre o natural, que desejava, e o real historicamente fundamentado, com que se
deparava, tornara-se trágica; mas esta contradição incitara-o para a luta pelo
natural. Não mais vivia quando a Revolução e Napoleão criaram uma situação
totalmente nova, mas não uma situação natural no sentido de Rousseau, mas ainda
uma situação ligada historicamente. A geração seguinte, profundamente
impressionada com os seus pensamentos e com as suas esperanças, viveu a
resistência vitoriosa do histórico-real, e precisamente aqueles que mais
profundamente sentiram a sua influência encontram-se num mundo novo, que
destruíra totalmente as suas esperanças, e no qual não puderam se sentir à
vontade. Entraram em oposição com ele ou afastaram-se dele. Da herança de
Rousseau guardaram somente a cisão interna, a tendência para a fuga da
sociedade, a necessidade de se isolar e de ficar sozinho; o outro lado da
natureza de Rousseau, o lado revolucionário e combatente, este eles perderam”.
([15])
Alain Badiou indica a torsão operada a partir do Termidor, a qual vai
dos valores ao mercado. Auerbach expõe, na figura de Sorel, a mesma torsão,
agora no plano “espiritual” mais amplo. O mundo dos fatos brutos e da
“realidade histórica” impõe-se como fatalidade sobre os românticos que escrevem
e sobrevivem na sociedade civil. Eles abandonam as teses políticas e morais de
Rousseau (eu diria, do século 18) em prol da segurança objetiva do Estado e da
sociedade. Os sonhos de um mundo melhor são banidos em favor das experiências
pessoais, dos sentimentos subjetivos, dos delírios imaginários. O que é
“objetivo” encontra-se definido pelo mercado e pela polícia. O subjetivo é
liberdade que sonha, no mundo da interioridade absoluta. Temos a gênese do
filistinismo intelectual, denunciado em escritores como Hegel, Marx, Stendhal,
Flaubert. Muitos filósofos e artistas recusaram lutar politicamente contra
a “realidade” para manter o seu ego
sensível, supostamente mais profundo do que a razão. Hegel definiu com perfeito
cinismo esta atitude. Trata-se, para ele, “do absoluto en négligé”, o
universo dos artista sem obra de arte. Contra a perigosa onda revolucionária,
os românticos preferem a revolta, Empörung na língua alemã.
É nesse exato instante que os
escritos de Rousseau e de seus companheiros e adversários do século 18 são divididos, não
arbitrariamente, mas segundo as conveniências políticas, ideais, religiosas da
Restauração, em textos políticos de um lado e auto-biográficos de outro. Os
primeiros seriam perigosos, mentirosos, sem importância na sua loucura. Os
segundos seriam sublimes e belos, adequados aos padrões românticos. Um dos
principais produtores deste corte que desfigurou por longo tempo os escritos de
Rousseau é Sainte-Beuve, dos mais refinados críticos literários, expoente do
romantismo conservador.
Sainte-Beuve, que produziu um monumento até hoje relevante para quem
deseja entender o pensamento francês do século 17, o famoso Port- Royal, no seu
trabalho sobre o século 18 fez a operação cirúrgica que desarmou a força
crítica do pensamento de Diderot, de Voltaire e de Rousseau. Não falarei das
“transfigurações” efetuadas por ele nos textos diderotianos nem nos de
Voltaire. Basta indicar o que ele fez com Rousseau.
O político e o moral não têm grande importância em Rousseau, proclama
Sainte-Beuve. O relevante mesmo teria sido o papel do pensador no refinamento
da língua e do estilo franceses. Ele enxerga em Jean-Jacques “o escritor que
fez experimentar (na língua…) uma revolução da qual nós mesmos, do século 19, datamos”.
([16] ) Da política à língua… Evidentemente, os dois
lados são complementares. Nenhum filósofo ou mesmo retor forja recursos formais
em função apenas de seu brilho. Sainte-Beuve diz explicitamente que Rousseau
produziu um estilo brilhante e com ele supera os textos políticos. Apenas nos
volumes autobiográficos ele une com perfeição e verdade forma e conteúdo. Nos
demais casos, o conteúdo perigosamente revolucionário faz lembrar, adianta
Sainte-Beuve, “uma lógica misturada de chamas, idéias confusas que se agitavam
e queriam nascer”. Trata-se de exaltar na escrita autobiográfica, diz Roger
Fayolle, junto ao “público cultivado” (o mesmo que se entediava nos salões onde
a censura era rainha) “a imagem anódina e apresentável de um Rousseau
‘pré-romântico’ que substituirá a do Rousseau real, cuja ambição maior não era,
com certeza, dobrar a língua aos novos usos”.
([17])
Uma vez que só importa em Rousseau o estilo e a língua, pouco serve
estudar aqueles elementos no Emilio e no Contrato Social. Eles
devem ser buscados nas Confissões, nos Devaneios do caminhante
solitário, etc. Sainte-Beuve deixa escapar, de vez em quando, algumas
razões da sua escolha. “O momento atual não é muito favorável a Rousseau, a
quem se imputa ter sido o autor, o promotor de muitos males por nós sofridos”.
Pode-se dizer “judiciosamente”, acrescenta ele citando Joubert, “que não existe escritor mais apto a tornar o
pobre soberbo”. ([18])
Assim, é possível fugir dos temas “perigosos” e proibidos pela censura
da Restauração e separar a política e Rousseau, o autor que mais liberou os
mesmos assuntos perigosos no éter cultural francês desde o século 18. Trata-se
para Sainte-Beuve “de tornar Rousseau responsável menos pelos horrores da
Revolução do que pelas audácias estilísticas dos escritores românticos”. ([19]) Extirpada a originalidade do pensamento sobre
a política do campo dominado por Rousseau —importa dizer que esta operação
cirúrgica ainda era feita no século 20 contra autores do 18, como acentua
Franco Venturi em sua crítica às análises de Ernst Cassirer — ([20]) resta
apenas a via do subjetivo, da expansão cordial, dos suspiros lânguidos e da
fuga do mundo, temas banais do romantismo. Para Sainte-Beuve “Rousseau se
engana, não ao acreditar que sua empresa é única, mas ao pretender que ela é útil:
de fato, ele agiu como um médico que descreveria uma doença mental e imitaria
os loucos”. ([21]) E o crítico indica também o aspecto central
de Rousseau para o romantismo: “a exaltação desmedida do Ego e das suas
paixões, indiscretamente propostas como exemplo” (Fayolle). Deixando-se de lado o pensador político,
tem-se oportunidade de perceber em Rousseau “o primeiro que colocou o verde em
nossa literatura”. Ao comentar o célebre trecho das Confissões, o quadro
sobre Rousseau criança e papai lendo madrugada adentro —“às vezes meu pai,
ouvindo pela manhã as andorinhas….”— Sainte Beuve exclama embevecido : “notem
bem esta andorinha, é a primeira e anuncia uma nova primavera da língua…”. ([22]) Além deste lado ingênuo, pueril mesmo, Rousseau ensinou, segundo Sainte-Beuve, ao
século 19 o mal do devaneio. Assim, temos o esboço do escritor paradigmático do
romantismo, em Sainte-Beuve e nos que o seguiram: “um Rousseau meloso, terno,
enternecedor, sentimental e sonhador, “que revelou sua natureza e colocou à luz
as dobras do seu coração”. Quem analisa o Contrato, a Profissão de fé,
as obras morais do filósofo, percebe o estupro adocicado cometido contra os
textos. No entanto, boa parte da recepção dada aos seus escritos entrou nesta
categoria dos róseos bombons estilísticos, graças à alquimia conservadora e
romântica.
A cesura feita por Sainte-Beuve, bem
adequada ao período que resultou do Termidor, marcou as preferências de boa
parte dos comentadores e ajudou a deformar o retrato de Rousseau e dos outros
pensadores do século 18. Como reação a semelhante desfiguramento romântico, ou
talvez como continuidade do mesmo desfiguramento (visto que o romantismo
conservador foi profundamente autoritário) tivemos no século 20 interpretações
denunciando um Rousseau comunitarista e mesmo totalitário. É quase um monotema,
nas propostas de interpretação de Rousseau totalitário, encontrar a fonte desta
atitude no próprio ego do pensador. Nos desarranjos e fraquezas de sua
inteligência e alma, brota o totalitarismo.
Frederick Watkins repete a lição que vem desde Vaughan: “Rousseau era um
tipo inteiramente diferente de pessoa, as fraquezas e força de seu
pensamento são distintas das
apresentadas pelos outros teóricos políticos. Embora dotado por natureza com
poucos dons de lucidez analítica, ele percebeu as motivações políticas e
sociais dos homens com incomum intuição perceptiva. Devido às contradições
internas de sua personalidade, ele julgou necessário dar espaço na teoria
política para complexidades psicológicas desconhecidas pelas construções
sistemáticas de pensadores mais estritamente lógicos. Dado que ele mesmo foi
incapaz de reduzir seu pensamento a um todo lógico consistente, é fútil
impor-lhe um sistema e seguir cada uma das suas várias intuições, levando-as às
suas conclusões lógicas. (…) Toda interpretação útil de seus escritos deve
começar, pois, com uma compreensão dos fatores psicológicos que lhe
possibilitam ter uma visão compreensiva dos problemas políticos”.
Logo, o problemático Rousseau em termos psicológicos, não possui força
lógica para estabelecer um sistema coerente. Seu interior sensível, melhor
entendido nas obras autobiográficas, ajusta-se melhor às batidas cordiais e
suas intuições não podem ser pensadas de modo racional. A suposta incoerência
dos textos leva à atribuição de atitudes opostas em Rousseau: de um lado, o
liberalismo e, de outro, o totalitarismo. “Para ele, como para a maioria dos
totalitários, um extremo pessimismo era a base para a recusa dos princípios
constitucionais. Enquanto o liberal consistente deve acreditar não apenas que o
povo comum deve assumir responsabilidades pelo seu próprio destino político,
mas também ele deve ser capaz, na base de sua própria razão e experiência, para
manter a ordem social”. Rousseau, calvinista, não acreditava na segunda linha
de exigência. Mesmo em circunstâncias favoráveis, o povo simples não pode, por
si mesmo, ser capaz de controle de sua vida política. “O aspecto totalitário de
seu pensamento deriva desta convicção (…) Ele insiste em dizer que o legislador,
embora justificadamente use mentiras e outras formas de engodo para atingir as
pessoas com seus propósitos, deveria persuadir em vez de forçar o povo comum a
aceitar os seus ditames. Liderança iluminista em vez do despotismo esclarecido
era a solução de Rousseau para o problema de transcender as limitações
intelectuais e morais do homem comum”. ([23])
Se o Rousseau totalitário não recomenda a força física ou os meios
definidos pela retórica da razão de Estado para constranger o povo comum, ele
utiliza o estilo melífluo. Os laços cordiais são acentuados nos seus escritos,
jogando-se o sentimento dos textos autobiográficos sobre os políticos. Todo o
arcabouço racional dos seus escritos é exorcizado em prol de um delirante
irracionalismo autoritário, bem de acordo com o próprio romantismo conservador.
Pode-se dizer que Sainte-Beuve e seus herdeiros exorcizam no Rousseau
político um fantasma, o da Revolução francesa que assombrou os reacionários
europeus ([24]) desde o início do século 19. Como diz o
próprio Sainte-Beuve, a propósito de Voltaire: “ele tinha contra ele, no fundo,
mesmo no partido da filosofia então triunfante, os discípulos e seguidores
desse Rousseau que ele havia conhecido pouco e ultrajado. Após a Revolução ter
feito a sua obra ruína, vários antigos adoradores de Voltaire mais do que pela
metade; eles separaram-se de seu culto, pois sentiram o preço das instituições
que havia imprudentemente sapado”. ([25])
Não discuto agora, passo a passo, as marcas do pensamento conservador.
Em O Conservadorismo romântico, apresento os elementos mais amplos desta
forma de pensar o mundo e a vida espiritual. Digo que se trata mais do fantasma
da revolução francesa e menos dos escritos políticos, eles mesmos, de Rousseau,
porque existem trabalhos que mostram a grande distância entre o escritor de
Genebra e os revolucionários, girondinos, jacobinos e mesmo sans cullotes.
Após resenhar a questão com minúcia, Iring Fetscher ([26]) mostra, nos textos, que poucas demonstrações
sólidas existem no item “influência de Rousseau sobre a Revolução Francesa”. O
mais apropriado é dizer com Albert Soboul: “poder-se-ia falar menos de uma
filiação das idéias de Rousseau do que numa concordância (…) que o ambiente
social basta para explicar. O conhecimento direto ou indireto de Rousseau indiscutivelmente
favoreceu a consciência e permitiu precisar aquele formulação”. ([27])
O recorte operado nos livros de
Rousseau por Sainte-Beuve e pelos românticos, joga as obras do genebrino
no domínio das entidades monstruosas, cuja forma se divide em dois e cujos
conteúdos são alheios uns aos outros. Fosse ele um Realpolitiker, sua
teorização receberia as cores da razão de Estado. E aí, o indivíduo deve
morrer, como no totalitarismo, em função da potência política, do Leviatã que
encarna a pessoa coletiva, o mentiroso “todos”. Fosse ele liberal, e não
aceitaria sob nenhuma hipótese a tese do sacrifício de um em prol do coletivo.
Com a ruptura feita à força entre os textos políticos e os autobiográficos,
sobra uma filosofia do “mais ou menos”. Ou seja, segundo os padrões rigorosos
do pensamento filosofante, uma não-filosofia. Chegamos ao resultado desejado
por todos os românticos conservadores em relação ao pensamento das Luzes em
geral, e de Rousseau em particular. Basta reler uma pequena seqüência frásica
de Joseph de Maistre sobre Rousseau: o escritor se apossou do assunto —a
questão da desigualdade mal proposta pela Academia— “porque era um tema que foi
expressamente feito para ele. Tudo o que era obscuro, tudo o que não
apresentava nenhum sentido determinado, tudo o que se prestava a divagações e
aos equívocos pertencia ao seu domínio particular”. ([28])
Se a operação romântica fosse
correta, no entanto, a frase com a qual iniciei estas considerações, “é bom que
um apenas pereça por todos”, seria lida com sentido e sinal únicos. O acentuado
nela é o sacrifício do indivíduo pelo Todo. Este é o programa integral do
romantismo conservador. Nele, a idéia orgânica do Estado teve como reverso a
exigência do relacionamento pessoal, todo subjetivo, entre governantes e
governados. A política foi entendida como ato amoroso do primeiro em relação
aos segundos e vice-versa. Esmaeceram-se os traços violentos da política: o
“amor” do governante pelos súditos tem por princípio o controle efetivo pelo
Príncipe. Este deveria fazer, “no Estado poético”, com que todos os
particulares se alegrassem no “desejo de limitar suas pretensões e
sacrificar-se pelo amor deste grande indivíduo” que é a comunidade estatal.([29])
A “bela comunhão” que arranca o sacrifício dos indivíduos é um pedaço de
doutrina que tem algum fundamento em Rousseau. Não é permitido esquecer, por
exemplo, no Contrato Social, os enunciados sobre a pena de morte e o
problema da conservação individual. Citemos: “O tratado social tem por fim a
conservação dos contratantes. Quem deseja o fim também quer os meios e estes
meios são inseparáveis de alguns riscos, mesmo de algumas perdas. Quem deseja
conservar sua vida às custas dos outros deve dá-la também para eles quando é
preciso. Ora, o cidadão não é mais o juiz do perigo ao qual a lei quer que ele se exponha; e quando o
Príncipe lhe disse: ‘É preciso ao Estado que tu morras’, ele deve morrer; pois
é apenas com esta condição que ele viveu em segurança até ali, e que sua vida
não é mais um benefício da natureza, mas um dom condicional do Estado”. ([30])
Em primeiro lugar, é preciso dizer que o trecho insere-se no campo da
lei e da defesa comum diante das ameaças ao corpo social. Evidentemente,
trechos como este podem, e o foram, torcidos rumo às ações despóticas de governos,
inclusive de governos que se denominaram democráticos. Mas no autor que
aprofundou como poucos o direito natural e defendeu a individualidade, ao ponto
de ser duramente criticado na apologética hegeliana do Estado, aquele fragmento
mente sobre Rousseau. Se é verdade que todos os filósofos são a súmula de seus
textos, de seu tempo e de seus intérpretes, é preciso, no estudo de Rousseau,
cautela para não tomar como se fosse dele uma complexa invenção tardia, seja
ela romântica, liberal, marxista, ecologista, psicanalítica. Caso exista sentido na leitura filosófica, ele
encontra-se na busca de compreender significados e sinais. Mas estes podem ser
substituídos pelos hermeneutas e logo transformados em palimpsestos cujas
camadas guardam e revelam mais as leituras posteriores do que os significados
originários.
Brotou do solo romântico o fantasma de um Rousseau sacerdote do culto de
sua própria sensibilidade. Esta figura, formando um monstro literário e
filosófico, uniu-se ao Rousseau jacobino, “tarântula moral” e pai de
Robespierre, o responsável pelo “fanatismo francês do coração” como afirma
Nietzsche([31]), — ainda no cenário aberto pela interpretação
romântica. O esfacelamento dos escritos em “políticos” e “sentimentais” levou
Nietzsche às bases da cortante divisão sobre o filósofo, indicando o fundamento
não questionado pelos românticos, a separação entre o interior e o exterior do
homem. “Se é verdade que a nossa civilização tem em si mesma algo miserável,
podemos escolher juntar-nos a Rousseau com a conclusão ulterior que ‘da nossa
perversa moralidade tem culpa a miserável civilização’, ou, contra Rousseau,
retornar à conclusão que ‘da nossa miserável civilização tem culpa a nossa boa
moralidade’. Os nossos conceitos fracos, desvirilizados, sociais conceitos de
bem e de mal, e o monstruoso suprapoder deles sobre as almas e os corpos e para
constranger os homens autônomos, independentes, sem preconceitos, as colunas de
uma robusta civilização: donde ainda hoje se encontra a perversa moralidade, se
enxergam as últimas ruínas desta coluna. ‘Assim se oponha paradoxo contra
paradoxo! Impossível que a verdade possa ser de ambas as duas partes; e ela é
de uma destas partes? Pode-se examinar”. ([32])
Um caminho menos perigoso, na interpretação do pensador, encontra-se em
Henri Gouhier. No escrito denominado “Filosofia de Rousseau e filosofia de
Jean-Jacques”, lemos que “a diversidade dos gêneros literários utilizados por
Rousseau multiplica as mediações: as obras que ele dá ao impressor, seus
escritos autobiográficos e as peças mais importantes de sua correspondência
poderiam constituir uma cadeia mais ou menos contínua, se elas fossem colocadas
na mesma linha segundo dos dois modelos, o dos Devaneios e os da Profissão
de Fé. Assim, aplicada ao pensamento de Rousseau, a palavra ‘filosofia’
recobre ora uma filosofia exposta por ela mesma, ora uma filosofia imanente a
escritos não filosóficos. Esta ambigüidade põe a questão: trata-se da mesma
filosofia aqui e ali?”.([33]) A forma interrogativa mostra um avanço que
leva a pesquisa para longe das mentirosas divisões românticas. Ainda estamos
longe de superar o romantismo, em seus múltiplos avatares, na cultura
ocidental. Esforços como este, mal sucedidos,
trazem, no entanto, alguma luz sobre os pensadores da Renascença e do
século 18, tão caluniados no romantismo que marcou os séculos 19 e 20. Por semelhante motivo, reuniões como a que
hoje se inicia são estratégicas no mundo acadêmico e político. Nelas, não se
propõe um estudo monotemático ou monocrômico de Rousseau, mas a busca —a partir
dos estilhaços interpretativos— de algum sentido verdadeiro para o discurso do
filósofo e dos seus pares iluministas. Desejo a todos um excelente trabalho!
[1] Cf. Besse, Guy: “J.-J. Rousseau: maître,
laquais, esclave”, in Hegel et le siècle des Lumières.
Jacques d´Hondt (ed). Paris, PUF, 1974, p. 75.
[2] Trabalho recente e útil, neste sentido, foi
apresentado por Saverio Sansaldi: Spinoza et le Barroque. Infini, Désir, Multitude. Paris, Kimé, 2001. Em plano muito próximo, discuti o problema no artigo
“A razão sonhadora. Descartes e o barroco” in O caldeirão de Medéia
(SP, Perspectiva, 2001).
[3] Besse, op. cit. p. 75.
[4] Trad. João Ferreira de Almeida, Biblia
Sagrada Brasília, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, p. 128. Cf. Novum
Testamentum Graece et Latine, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana,
1981, p. 547.
[6] Cf. Dispot, L. La machine à terreur, Révolution
Française et Terrorismes. Paris, Editions
Grasset, 1978, p. 76, nota 4.
[7] Matthew White: Historical Atlas of the Twentieth Century,
(http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm).
O autor agrupa os dados das guerras, das mortes devidas às perseguições
políticas, religiosas, ideológicas, etc. Trata-se de uma fonte a não ser
desconhecida dos que se interessam pelos problemas da guerra e da paz.
[8] Novalis, Heinrich von Ofterdingen,
in Werke
und Briefe. München, Winkler Verlag, 1953, p. 246.
[9] Bertaud, Jean-Paul : “O soldado” em Vovelle,
Michel (ed.) O Homem do Iluminismo. Lisboa, Ed. Presença, 1992, pp. 73 e ss.
O artigo traz boas achegas ao problema da guerra no pensamento das Luzes,
analisando ao mesmo tempo a organização, as técnicas, as figuras humanas do
mundo bélico antes e depois de Napoleão.
[10] Senellart, op. cit. pp. 102-103.
[11] Cf. Laux, Henri: Imagination et religion chez
Spinoza. La potentia dans l´histoire.
Paris, Vrin, 1993. Em artigo que compõe uma coletânea no prelo,
“O desafio do Islã” (SP, Ed. Perspectiva) intitulado “O sol negro da Noite”, analiso o problema em
Spinoza. Para a política spinozana, publiquei recentemente o texto “A
igualdade, considerações críticas” no site Foglio Spinoziano (Itália): http://www.fogliospinoziano.it/
[12] Analiso estes pontos no artigo “Lembra-te que
és homem”, publicado pela Revista
Justiça e Democracia, da Associação Juízes para a Democracia, Número 1,
primeiro semestre de 1996, pp. 153 e ss.
[13] Cf. Alain Badiou, “Qu´est-ce qu ´un
thermidorien?” in Kintzler, Catherine et Rizk, Hadi: La république et la terreur.
Paris, Kimé, 1995, pp. 56-57.
[14] Cf. Maria Sylvia Carvalho Franco, “All the
world was America”, Revista USP, dossier liberalismo.
[15] Erich Auerbach, “Na mansão de La Mole”, in Mimesis.
A representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo,
Perspectiva, 1971, pp. 395 e ss.
[16] Les Causeries du lundi, III, p. 78. Uso o texto da
Bibliothèque Numérique de la BNF, site Gallica. Seguirei neste ponto, integralmente, as análises
de Roger Fayolle ; Sainte-Beuve et le XVIIIe siècle, ou comment les révolutions arrivent.
Paris, Armand Colin, 1972, pp. 227 e ss.
[17] Fayolle, op. cit. p. 228.
[19] Fayolle, op. cit. p. 229.
[20] Por exemplo: “apesar de seu forte interesse em
todos os problemas políticos, o período das Luzes não desenvolveu uma nova
filosofia política. Quando estudamos as obras dos mais famosos e influentes
autores nos surpreendemos ao notar que eles não trazem nenhuma teoria nova. As
mesmas idéias são repetidas sempre e sempre —e tais idéias não foram criadas
pelo século 18. Rousseau fala em paradoxos, mas quando chega à política,
ouvimos um tom diferente e sóbrio. Na concepção de Rousseau do alvo e do método
da filosofia política, na sua doutrina dos inalienáveis direitos humanos,
dificilmente existe algo que não tenha paralelo e modelo nos livros de Locke,
Grotius ou Pufendorf. O mérito de Rousseau e de seus contemporâneos encontra-se
(…) na vida política mais do que na doutrina”. Cassirer,
Ernst: The Myth of the State. New Haven/London, Yale University Press,
1966, pp. 176-177.
[22] Causeries…T.III, p. 82, Gallica.
[23] Cf. Watkins, F. “Introdução”
a Rousseau
Political Writings. Thomas Nelson
and Son Ed.. 1953. Toda esta
introdução é um hino à leitura enviesada de Rousseau, pelo pensamento pouco
atento aos seus textos.
[24] O termo é este mesmo, apesar dos abusos
cometidos contra ele pelos estalinistas e fascistas do século 20. Para uma
análise da palavra e do conceito, cf. Starobinski, Jean: Action et réaction. Vie et aventures d´un couple. Paris, Seuil, 1999.
[25] Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, 20
outubro de 1856, Uso o texto editado no site http://www.voltaire-integral.com/Grimm/Cayrol2.html.
[26] Rousseaus politische Philosophie. Uso a tradução italiana: La filosofia politica di Rousseau. Per la
storia del concetto democratico di libertà. Milano, Feltrinelli
Editore.
[27] Cit. por Fetscher, op. cit. p. 264.
[28] Cf. De Maistre, Joseph : Examen
d´un écrit de J-J. Rousseau sur l´inégalité des conditions parmi les hommes.
In Oeuvres
de Joseph de Maistre. Les Archives de la Révolution Française. Hedington Hill Hall, Oxford. Editado eletronicamente
por Gallica.
[30] Du Contrat Social,
livro 2, 5, cito na edição de Maurice Halbwachs, Paris, Aubier, 1943, pp.
161-162.
[31] Morgenröthe.
Nachgelassene Fragmente. Livro I,
3, Berlim/Nova York, Walter de Gruyter,
1971, p. 6.
[32] Nietzsche, op. cit. p. 146.
[33]
Gouhier, Henri. Les méditations métaphysiques de
Jean-Jacques Rousseau. Paris, Vrin, 1984, pp. 86-87.